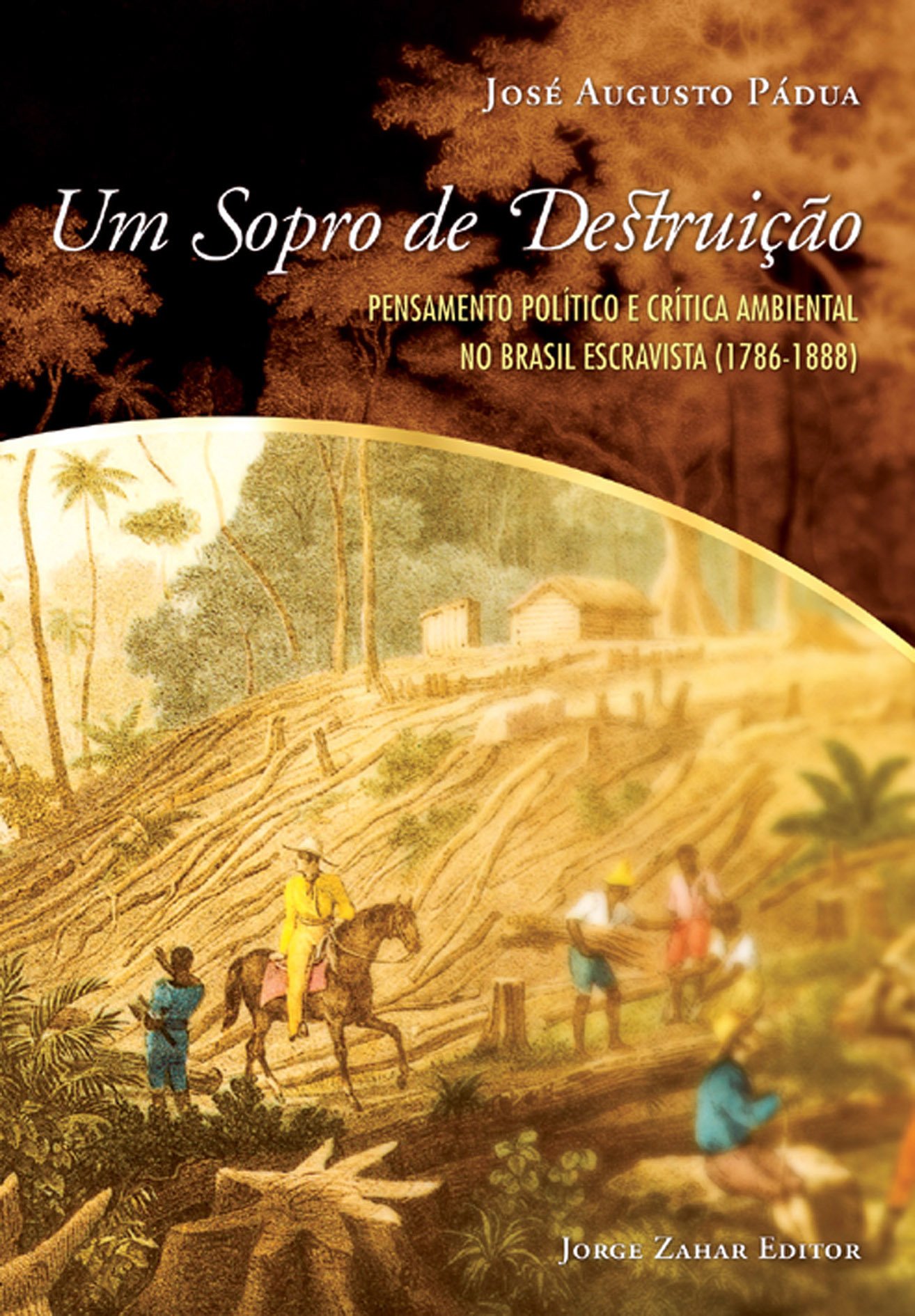A história de uma comunidade não se escreve apenas com nomes e datas, mas também com as marcas deixadas na paisagem. Cada campo cultivado, cada rio alterado e cada trecho de mata que permanece ou desaparece conta uma parte da jornada de um povo. A terra é, em si, um documento vivo que revela as complexas interações entre a sociedade, sua cultura, sua economia e o ambiente natural que a sustenta.
Para explorar essa conexão, esta postagem se debruça sobre os resultados de um trabalho acadêmico que investigou mais de um século de transformações ambientais vividas por uma pequena comunidade no município de Botuverá, no entorno do Parque Nacional da Serra do Itajaí. O estudo História e Apropriação da Natureza na Zona de Amortecimento do Parque Nacional da Serra do Itajaí (PNSI): o caso da comunidade de Salto de Águas Negras em Botuverá-SC, de autoria de Gilberto Friedenreich dos Santos, Ana Cláudia Moser, Martin Stabel Garrote e Vanessa Dambrowski, foi apresentado em 2010, durante o V Encontro Nacional da ANPPAS, realizado em Florianópolis (SC).
Clique aqui para acessar o estudo completo.
A comunidade de Salto de Águas Negras está localizada no município de Botuverá, em Santa Catarina, uma região geográfica conhecida como Médio Vale do Rio Itajaí-Mirim. Sua paisagem é marcada por vales estreitos e encostas íngremes que, à primeira vista, parecem desafiadoras para a agricultura. No entanto, a viabilidade do assentamento foi garantida por uma característica geológica crucial: a formação de rampas colúvio-aluvionares nas margens do rio, que depositaram um solo de textura argilosa e fértil nas camadas superficiais, permitindo o cultivo.
A localização da comunidade é de especial importância ecológica, pois está situada logo após a zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra do Itajaí (PNSI), uma unidade de conservação criada para proteger remanescentes da Mata Atlântica. Essa proximidade com o parque coloca os moradores em uma interface direta entre as práticas de desenvolvimento e as necessidades de preservação ambiental.
A história da ocupação moderna da região começa no século XIX, com a intensificação da imigração europeia para o Brasil. A partir de 1876, imigrantes italianos, em sua maioria da província de Trentino, chegaram a Botuverá, encontrando uma paisagem radicalmente diferente da sua terra natal: uma região inteiramente coberta pela densa vegetação da Mata Atlântica.
Esses colonos trouxeram consigo não apenas suas ferramentas e costumes, mas também uma concepção de natureza forjada pela escassez. Vindos de uma região montanhosa nos Alpes, onde "se tornava impossível o desenvolvimento de uma agricultura robusta e suficiente", eles viam a natureza como "algo intocado, hostil e selvagem, ou seja, algo a ser domesticado pelo homem." Essa visão contrastava fortemente com a dos povos indígenas (Xokleng e Guarani) que habitavam a área anteriormente, cuja relação com o meio, baseada na caça, coleta e agricultura rudimentar, causava um impacto mínimo no ecossistema. Com a chegada dos europeus, a transformação do ambiente natural tornou-se mais acentuada e sistemática.
O estudo identifica quatro fases distintas que narram a história da apropriação dos recursos naturais e a transformação da paisagem em Salto de Águas Negras, compondo um arco de crescente impacto ambiental impulsionado por pressões econômicas.
Fase 1: A era do "desbravamento" (1876 ao final da década de 1940)
A primeira fase foi marcada pela necessidade de sobrevivência e estabelecimento. A principal atividade era o "desbravamento", a retirada da mata para a construção de casas e para a abertura de áreas para agricultura de subsistência, utilizando técnicas como a queimada. A exploração da madeira, especialmente de espécies nobres como canela e peroba, tornou-se uma importante atividade econômica. A extração era manual, e as toras eram transportadas em balsas pelo Rio Itajaí-Mirim até os centros comerciais. Um dos moradores mais antigos, I. Gianesini (2008), recorda como as famílias se organizavam para ocupar o território: "Eles vinham por conta própria. [...] Entravam em acordo, o outro era cunhado ou parente né, então eles diziam: 'tu pega daqui pra cá, que eu pego daqui pra lá'. [...] sempre foi respeitado esses marcos ali, como os velhos antigamente." A base da alimentação vinha da terra e do rio, incluindo uma rica variedade de culturas como milho, aipim, cará, taiá, batata doce, arroz e feijão, complementada pela caça e pesca. Engenhos de farinha e cana, além de atafonas movidas a água, eram estruturas essenciais para o processamento dos alimentos.
Fase 2: A chegada do fumo (Final da década de 1940 à década de 1960)
O final da década de 1940 marcou uma virada fundamental, o momento em que a relação da comunidade com a terra mudou de forma irrevogável. Incentivada por grandes empresas como a Souza Cruz, a agricultura local transitou de um modelo de auto-suficiência para um de dependência comercial com a introdução do cultivo de fumo. Essa mudança acelerou drasticamente o desmatamento. Eram necessárias novas áreas para o plantio e, crucialmente, uma grande quantidade de lenha para alimentar as estufas utilizadas na secagem das folhas. O preço pago pela floresta aumentou exponencialmente. Nesse mesmo período, a chegada dos primeiros caminhões à região modernizou o transporte, encerrando a era do escoamento fluvial de madeira.
Fase 3: Auge da fumicultura e os agrotóxicos (Década de 1960 a 1990)
Este período representa o auge da fumicultura, impulsionado pela implementação dos padrões tecnológicos da "Revolução Verde". O cultivo do fumo era um processo trabalhoso, como descreve o agricultor Fachini (2008), detalhando desde o preparo dos canteiros e o plantio até a complexa etapa de secagem nas estufas, que durava dias. A introdução da moto serra (chainsaw) nesse período também permitiu a aceleração da extração comercial de madeira, ampliando as consequências para a mata nativa.
Junto com as novas técnicas, vieram os insumos químicos. Esta fase foi marcada pelo uso intensivo de agrotóxicos, frequentemente aplicados sem qualquer equipamento de proteção. A memória dos agricultores guarda a lembrança dos riscos. Gianesini (2008) relata o perigo de um produto específico: "Até aquele Furadan, aquele que mata qualquer bicho [...] Ali no fumo tu botava sem nada nas mãos [...] que coisa né esse Furadan, nós não morremos porque foi milagre".
O sistema econômico se revelou uma armadilha. As empresas forneciam os insumos, e os agricultores pagavam a dívida com a colheita. Conforme o relato de Gianesini (2008), se a safra fosse ruim, o agricultor não só ficava devendo, como era obrigado a plantar no ano seguinte para quitar o débito. A falha em pagar significava que "a tua terra esta penhorada", criando um ciclo de dívida que forçava a continuidade da produção.
Fase 4: O declínio do fumo e as novas paisagens (1990 aos dias atuais)
A partir da década de 1990, a fumicultura entrou em declínio. Os principais fatores foram a queda do valor comercial do produto, o êxodo da população mais jovem, a inserção de indústrias na comunidade que ofereciam empregos alternativos e, de forma decisiva, a implementação de uma legislação ambiental mais restritiva (Decreto n° 99.547 de 1990 e Decreto n° 750 de 1993), que proibiu o corte de vegetação nativa da Mata Atlântica.
Com o fim do ciclo do fumo, uma nova paisagem começou a se formar, ativamente incentivada por políticas públicas. Muitas propriedades passaram a destinar suas terras ao plantio de eucalipto. A Prefeitura Municipal de Botuverá apoiou essa transição, fornecendo mudas a preços acessíveis através de seu horto florestal e disponibilizando um serviço de "serra fita móvel" (serraria móvel) para processar a madeira nas próprias propriedades. Ao mesmo tempo, as novas leis ambientais geraram conflitos, pois alteraram hábitos tradicionais, como a extração de madeira para uso próprio e a caça.
O processo histórico de ocupação e desenvolvimento econômico deixou marcas profundas no meio ambiente de Salto de Águas Negras. O estudo sintetiza as principais consequências:
• Perda de grande parte da cobertura vegetal original da Mata Atlântica, resultado de mais de um século de desmatamento para agricultura, extração madeireira e obtenção de lenha.
• Diminuição de espécies animais e vegetais, causada pela destruição de habitats e pela caça, muitas vezes predatória, que esgotou a fauna local.
• Contaminação do solo e dos recursos hídricos, uma herança direta do uso intensivo de agrotóxicos durante o auge da fumicultura.
A percepção dessas mudanças está viva na memória dos moradores. Fachini (2008) lamenta a perda da vida aquática: "sumiu muito peixe do rio. [...] Hoje em dia ninguém mais pesca está muito poluído." Sobre a caça, Gianesini (2008) recorda a abundância de animais e as severas penalidades impostas atualmente pela Polícia Ambiental: "Se por acaso é dedado [...] vai lá a Polícia Ambiental ele tem direito a ir no freezer [...] Fiança não tem, é gaiola e tem que responder processo a vida toda".
O artigo demonstra que a profunda transformação da paisagem em Salto de Águas Negras é o resultado direto de uma concepção de natureza, herdada dos colonizadores europeus, que via o ambiente como algo que deveria se tornar "civilizado" a partir do trabalho humano. A lógica era clara: era preciso retirar a mata, cultivar e construir para transformar o selvagem em civilização. Cada fase econômica — do desbravamento inicial à fumicultura e ao atual ciclo do eucalipto — imprimiu essa visão sobre a terra, com consequências ambientais e sociais duradouras.
A comunidade enfrenta os desafios de um novo tempo. O estudo aponta para a necessidade de encontrar caminhos que consigam aliar o desenvolvimento sustentável, a preservação dos ecossistemas e o fortalecimento da agricultura familiar. Mais do que uma mudança de políticas, essa jornada exige uma mudança de percepção, algo que já ecoa na memória dos próprios agricultores. Refletindo sobre o uso de agrotóxicos no passado, o agricultor Fachini (2008) oferece uma poderosa síntese dessa transformação pessoal e coletiva: "Nós íamos até sem camisa. [...] É que na época eles não mandavam cuidar como hoje, se tu vai passar um veneno no capim tem que usar máscara. A gente se cuida mais."
Essa sabedoria adquirida, nascida da experiência direta com a terra, nos lembra que estudos de História Ambiental são fundamentais. Eles nos permitem olhar para o passado não para julgar, mas para compreender as raízes dos nossos desafios presentes e, assim, planejar um futuro onde a relação entre a sociedade e a natureza seja mais equilibrada e consciente.

 Nesta postagem analisamos o texto “O futuro da nossa exportação de madeira e a preocupação com o reflorestamento”, reproduzido na revista Blumenau em Cadernos, n. 02, Tomo XXXI, de 1990. O texto original foi retirado do periódico O Mercado de Madeiras, órgão da Liga das Serrarias de Blumenau, em seu número 3, ano 1, publicado em 1930. Trata-se de um fragmento de texto assinado apenas pelas iniciais “E. G.”, cuja autoria permanece indefinida (faltou a pesquisa para identificar - se alguém souber coloca nos comentários), mas que oferece pistas valiosas para enriquecer uma história ambiental da exploração madeireira no Vale do Itajaí e, em particular, do passado de Blumenau. À primeira vista, o relato parece concentrar-se quase exclusivamente nas questões do desenvolvimento econômico regional, descrevendo a dinâmica da exportação de madeira, os desafios logísticos do transporte e a competição entre diferentes modais e regiões produtoras. Essa ênfase reforça a centralidade da madeira como base material da economia local nas primeiras décadas do século XX. No entanto, é justamente nas linhas finais do texto que emerge um elemento surpreendente: uma preocupação explícita com o futuro das florestas e com a necessidade do reflorestamento. Essa observação, aparentemente marginal, revela que a noção de finitude dos recursos naturais já fazia parte do debate público, mesmo em um contexto fortemente marcado pela ideologia do progresso e pela expansão da exploração florestal.
Nesta postagem analisamos o texto “O futuro da nossa exportação de madeira e a preocupação com o reflorestamento”, reproduzido na revista Blumenau em Cadernos, n. 02, Tomo XXXI, de 1990. O texto original foi retirado do periódico O Mercado de Madeiras, órgão da Liga das Serrarias de Blumenau, em seu número 3, ano 1, publicado em 1930. Trata-se de um fragmento de texto assinado apenas pelas iniciais “E. G.”, cuja autoria permanece indefinida (faltou a pesquisa para identificar - se alguém souber coloca nos comentários), mas que oferece pistas valiosas para enriquecer uma história ambiental da exploração madeireira no Vale do Itajaí e, em particular, do passado de Blumenau. À primeira vista, o relato parece concentrar-se quase exclusivamente nas questões do desenvolvimento econômico regional, descrevendo a dinâmica da exportação de madeira, os desafios logísticos do transporte e a competição entre diferentes modais e regiões produtoras. Essa ênfase reforça a centralidade da madeira como base material da economia local nas primeiras décadas do século XX. No entanto, é justamente nas linhas finais do texto que emerge um elemento surpreendente: uma preocupação explícita com o futuro das florestas e com a necessidade do reflorestamento. Essa observação, aparentemente marginal, revela que a noção de finitude dos recursos naturais já fazia parte do debate público, mesmo em um contexto fortemente marcado pela ideologia do progresso e pela expansão da exploração florestal.