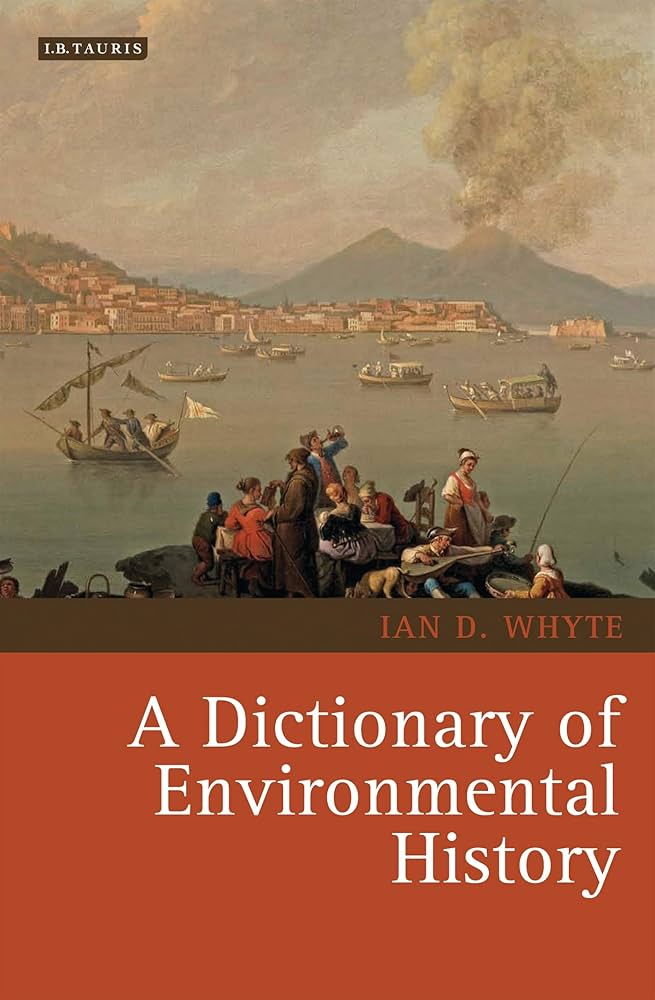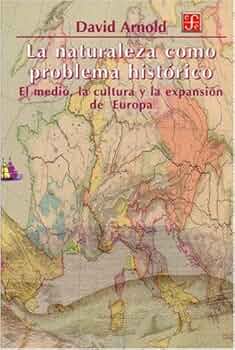O ano de 2025 pode ser caracterizado como um período de relativa tranquilidade nas atividades do Grupo de Pesquisa de História Ambiental do Vale do Itajaí (GPHAVI), especialmente quando comparado a fases anteriores de maior intensidade, como o intervalo entre 2009 e 2019. Naquele período, o grupo chegou a contar com uma equipe ampliada, composta por até doze bolsistas anualmente de graduação, beneficiando-se de um cenário mais favorável ao fomento à pesquisa, com a existência de diversos programas institucionais e governamentais de incentivo, como o PIBIC CNPq, hoje o principal fomento de ICs, e o PBIC/FURB, o FUMDES e o PIPe, todos posteriormente extintos. A substituição desses programas pela política da Universidade Gratuita, embora relevante em outros aspectos, alterou significativamente a dinâmica de financiamento direto à pesquisa científica no estado de Santa Catarina. Ainda assim, mesmo diante desse contexto de retração estrutural do apoio à pesquisa no país e no estado, o GPHAVI manteve suas atividades de forma contínua.
No período posterior à pandemia de COVID-19, observam-se avanços importantes na retomada e manutenção das atividades de pesquisa, ensino e extensão em todo país. O grupo conseguiu assegurar a continuidade de projetos de Iniciação Científica, pesquisas com fomento externo e ações de divulgação científica. Em 2024, foram iniciadas duas pesquisas de Iniciação Científica. A primeira, vinculada à graduação, contou inicialmente com dois bolsistas e teve como objetivo investigar a História Ambiental da agropecuária no Vale do Itajaí, com foco na região de Blumenau entre os séculos XVIII e XIX. Essa pesquisa foi concluída em setembro de 2025 com a permanência de um bolsista, sendo seus resultados apresentados na Mostra Integrada de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura (MIPE). A segunda Iniciação Científica, desenvolvida com dois bolsistas do Ensino Médio da ETEVI, teve início também em 2024 e se dedicou à análise dos grupos de pesquisa em História Ambiental e às estratégias utilizadas por esses coletivos para a divulgação científica por meio das redes sociais. Esse estudo foi igualmente finalizado em setembro de 2025 e apresentado na MIPE.
No decorrer de 2025, ambas as Iniciações Científicas foram renovadas. A pesquisa de graduação deu sequência à problemática anteriormente estabelecida, mantendo o mesmo bolsista durante boa parte do ano, embora tenha ocorrido sua substituição no final do período, encerrando-se o ano com um bolsista em atividade. Essa Iniciação Científica foi coordenada pelo pesquisador Gilberto, com apoio do pesquisador Martin. Já a Iniciação Científica do Ensino Médio foi renovada com dois bolsistas, mantendo a mesma linha de investigação, sob coordenação do pesquisador Martin, que também atua como professor dos estudantes na educação básica. Dessa forma, o ano de 2025 foi concluído com duas Iniciações Científicas em andamento, uma na graduação, com um bolsista, e outra no Ensino Médio, com dois bolsistas.
Paralelamente às atividades de Iniciação Científica, o grupo deu continuidade a um projeto de pesquisa fomentado pela FAPESC, voltado ao mapeamento ambiental, ao incentivo ao desenvolvimento sustentável e à observação de aves no entorno do Parque Nacional da Serra do Itajaí. Esse projeto envolve diretamente os pesquisadores Gilberto, Carlos, Vanessa e Martin, e demandou a realização de diversas atividades de campo, incluindo trilhas, observação sistemática e registro de espécies de aves. Trata-se de uma pesquisa em andamento, com previsão de execução até o final de 2026, cujas informações e atualizações vêm sendo divulgadas regularmente nos canais do grupo.
No que se refere à produção e à difusão do conhecimento científico, as pesquisas de Iniciação Científica resultaram em relatórios finais, que servirão de base para a elaboração de artigos acadêmicos a serem submetidos a periódicos científicos, em coautoria com os bolsistas. A pesquisa financiada pela FAPESC conta atualmente com dois artigos em fase de desenvolvimento, além de outros estudos já submetidos, para os quais o grupo aguarda retorno de dois periódicos científicos. Em termos de publicações consolidadas em 2025, ainda não publicamos as pesquisas particulares realizadas pelo grupo, mas os pesquisadores marcaram presença, o pesquisador Gilberto participou da publicação de dois artigos científicos. O primeiro, intitulado Integração das políticas de planejamento urbano com obras de proteção costeira: estudo de caso no litoral de Itapema-SC, foi publicado na Revista Brasileira de Geografia Física. O segundo, Governança dos Recursos Hídricos e Desenvolvimento Regional Sustentável: o Caso do Comitê do Itajaí (SC), foi publicado na revista REDES. A pesquisadora Vanessa, em coautoria com Carlos, publicou o artigo Birds of the north coast of Santa Catarina na Revista CEPSUL: Biodiversidade e Conservação Marinha. Além disso, Carlos Eduardo Zimmermann publicou, em coautoria, o estudo Ficus cestrifolia Schott ex Spreng (Moraceae) como foco no recrutamento de espécies florestais em pastagens abandonadas, na Acta Biológica Catarinense.
 |
| Visualizações do blog |
As atividades de extensão permaneceram como um dos eixos centrais do GPHAVI ao longo de 2025, especialmente por meio da divulgação científica realizada nas redes sociais e, de forma destacada, pelo blog do grupo. Criado em 2009, o blog consolidou-se como a principal ferramenta extensionista do GPHAVI, alcançando ao longo de sua trajetória mais de 331 mil visualizações. Somente em 2025, o blog registrou mais de 81 mil visualizações, evidenciando seu alcance e relevância junto a diferentes públicos.
Durante o ano, foram publicadas diversas postagens, abordando temas variados da História Ambiental, com destaque para aquelas que obtiveram maior número de acessos. Entre as dez postagens mais acessadas de 2025 destacam-se textos como A jornada da pesquisa acadêmica: da IC ao TCC no GPHAVI, Aves, conservação e a relação com a História Ambiental, Colonização alemã no Vale do Itajaí: uma análise ambiental, Trabalho, natureza e História, O espectro do capitalismo assola um Parque Nacional, A História Ambiental e o 01 de maio, Chamada para seleção de Projetos de Iniciação Científica – PIBIC-CNPq 2025, Dia Mundial do Meio Ambiente e aniversário de 21 anos do GPHAVI, Desvendar a História Ambiental: um ensaio sobre abordagens e fontes e O papel da História Ambiental na educação contemporânea. Essas postagens refletem tanto a diversidade temática quanto o compromisso do grupo com a divulgação científica crítica e acessível.
Em síntese, embora 2025 tenha sido um ano marcado por limitações estruturais no fomento à pesquisa, o Grupo de Pesquisa de História Ambiental do Vale do Itajaí manteve-se ativo e produtivo, assegurando a continuidade de suas pesquisas, a formação de estudantes, a produção acadêmica e a divulgação do conhecimento. O conjunto das atividades desenvolvidas reafirma o compromisso do GPHAVI com a pesquisa científica, a formação crítica e a extensão universitária, ao mesmo tempo em que expressa a expectativa de que, em um futuro próximo, o cenário institucional e político possa novamente favorecer de forma mais ampla o desenvolvimento da pesquisa no país e no estado de Santa Catarina.
Acompanhe nossas publicações, e se torne um seguidor do blog. Este texto foi formatado e adaptado por IA.